A boiada está passando: desmatar para grilar
Do infame “Dia do Fogo”, em agosto de 2019, aos incêndios florestais que acarretaram o encobrimento total do céu de São Paulo por grossa nuvem de fumaça, em setembro de 2020, os últimos dois anos foram marcados pela aceleração da devastação ambiental na Amazônia, Pantanal e Cerrado. As imagens de animais selvagens queimados e de amplas paisagens em chamas nos convocam à indignação. Ficam por vezes obscurecidas, no entanto, as dinâmicas conflitivas e criminosas que estão no epicentro dos incêndios florestais e de como o fogo é utilizado amiúde como instrumento de controle territorial.
O fogo é um elemento da natureza manejado com sabedoria por povos indígenas e comunidades tradicionais há séculos. Seus usos tradicionais são realizados de forma cuidadosa, em pequenas porções de terra e na estação adequada, como parte do manejo de longo prazo da paisagem agroflorestal[1]. Acusações em torno desses usos[2] não são somente infundadas e levianas, como também servem de cortina de fumaça para desviar a atenção a respeito da origem da maior parte dos incêndios florestais.
Ao contrário do uso tradicional, o uso do fogo na cadeia da grilagem-agronegócio ocorre em grandes extensões de terra e está, direta ou indiretamente, associado ao desmatamento que acompanha a expansão da fronteira agrícola. Nesses casos, o fogo é utilizado para consolidar a grilagem, tanto no sentido de encobrir a invasão de terras públicas e o crime ambiental (desmatamento ilegal)[3], quanto para finalizar o processo do desmatamento, dando aparência imediata de terra em uso agrícola e preparando a área para servir como pastagem ou, em algumas regiões, campo de monocultivos. O fogo – associado ao desmatamento – é, ainda, muitas vezes, utilizado como arma contra povos indígenas e comunidades quilombolas, tradicionais e de base camponesa [4].
O desmatamento acompanha a expansão da fronteira agrícola
O mapa do desmatamento acumulado na Amazônia, Cerrado e Pantanal contém algumas pistas para o entendimento desses processos. À medida que a fronteira das principais commodities agrícolas brasileiras – carne de gado e soja – avança historicamente do Centro-Sul rumo ao Brasil Central e daí para o Matopiba[5] e a Amazônia, avança também o desmatamento para abrir pastos e campos para monocultivos. Os números agregados nacionais e regionais das principais trajetórias de mudança do uso da terra corroboram e refinam a compreensão dessa correlação.
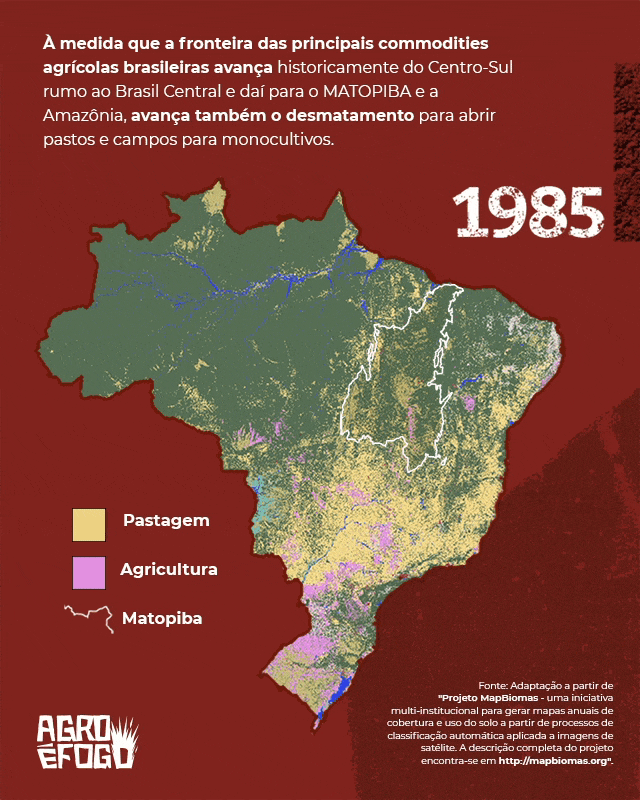
Entre 1985 e 2019, período que coincide com a emergência e consolidação da economia do agronegócio[6], 90% do desmatamento no Brasil ocorreu para a abertura de área de pastagens e monocultivos e 10% para outros usos[7]. Mas os números agregados são insuficientes para entender a relação entre expansão da fronteira agrícola e desmatamento. Se olharmos os números das trajetórias de mudança do uso da terra em regiões específicas, podemos refinar a leitura e entender o papel da soja e da relação entre pastagens e monocultivos de soja nesses processos.
Assim, vemos que, de 2000 a 2014, mais de 80% da expansão da soja no Cerrado do Centro-Oeste se deu sobre áreas de pastagem e outras culturas[8], impulsionando o avanço de áreas de pastagens sobre a floresta amazônica (em especial no Norte do Mato Grosso e Sul do Pará)[9]. As rodovias que conectam o Brasil Central à Amazônia acabam sendo eixos centrais desse movimento. A Belém-Brasília (BR-153) e a Cuiabá-Porto Velho (BR-364), ambas obras do governo Juscelino Kubistchek (JK), são consideradas marcos da constituição, a partir da década de 1960, do chamado “arco do desmatamento”[10] – região composta por 256 municípios na qual a destruição da floresta historicamente se concentra e onde se costumavam focar as políticas públicas de combate ao desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, quando estas ainda, de fato, existiam.
A região vai do Oeste do Maranhão, Sul e Sudoeste do Pará, passando pelo Norte do Mato Grosso, Rondônia e Acre, uma faixa localizada justamente ao longo da área de transição Cerrado-Amazônia. E como desmatamento e grilagem caminham juntos, a transição Cerrado-Amazônia é também a região de maior intensidade de conflitos no campo no país[11]. Além desse arco mais consolidado de desmatamento, a expansão da fronteira agrícola sobre a Amazônia tem se aproveitado da mesma BR-364 e de rodovias abertas durante o Regime Militar que avançam sobre o coração da floresta, como a BR-319 (Manaus-Porto Velho) – com projeto de repavimentação no atual programa público de infraestrutura[12] – e a BR-163 (Cuiabá-Santarém) – que, não por acaso, foi o palco principal do Dia do Fogo[13] -, constituindo “novas flechas de desmatamento”[14].
No mesmo período, a dinâmica de expansão da fronteira agrícola no Cerrado dentro do Matopiba foi distinta. Ali, nos chapadões que cobrem o Oeste da Bahia, Sul do Piauí e do Maranhão, na divisa com o Nordeste do Tocantins, o Cerrado é devastado para dar lugar a campos de soja: mais de 60% da ampliação da área de soja na região, entre 2000 e 2014, se deu por meio do desmatamento de vegetação nativa para a abertura de novas áreas[15]. Constituiu-se, assim, nas últimas décadas, um “arco do desmatamento” do Cerrado, em grande medida em sua porção localizada sobre e no entorno do Sistema Aquífero Urucuia-Bambuí, e associado à expansão da fronteira no Matopiba.

São números que, além disso, revelam que, ao contrário do que se costuma dizer, a soja brasileira – 75% da qual é exportada[16] – é importante vetor direto (no Matopiba) ou indireto (empurrando a fronteira agropecuária para a Amazônia) do desmatamento, a depender da região analisada.
A expansão da fronteira agrícola depende da apropriação privada da terra
Em que pese o discurso de que o AGRO é tech e da factual adoção, no último meio século, de um modelo produtivo dependente de pacotes tecnológicos (sementes geneticamente modificadas, fertilizantes químicos, agrotóxicos e maquinário), a expansão da produção de commodities nas últimas décadas se deveu principalmente ao aumento da área de pastagens (em especial na Amazônia) e de monocultivos (em especial no Cerrado)[17]. Os ganhos de produtividade e a intensificação produtiva foram significativos, sobretudo nas áreas de fronteira mais antiga no Centro-Sul, mas tiveram menor importância relativa no incremento agregado do volume de produção, que beneficiou-se sobretudo da expansão da fronteira. Nesse sentido, são atividades que aprofundam aspectos típicos da economia colonial de plantation que assola o Brasil há 500 anos: como são extremamente intensivas em terra e água, promovem concentração fundiária e injustiças ambientais.[18]
A apropriação privada de grandes extensões de terra é, portanto, condição da expansão das monoculturas animais e vegetais do agronegócio. Uma das expressões disso é justamente a paulatina transformação fundiária da predominância de posses para a instauração de propriedades em determinadas regiões, que acompanha o avanço da fronteira agrícola[19]. Disso não decorre, no entanto, que os títulos de propriedade sejam comprovação de que o imóvel rural tenha sido legalmente incorporado ao patrimônio privado[20].
Ao contrário, é raro encontrar títulos de propriedade de imóveis rurais de grandes dimensões no MATOPIBA (principal fronteira atual do Cerrado) ou na Amazônia Legal (que abarca também áreas de Cerrado e Pantanal) que tenham cadeia sucessória válida demonstrando o momento do destacamento do patrimônio público e sua transferência legal para o patrimônio privado, o que significa que, na maioria dos casos, esses imóveis passaram em algum momento por procedimentos de grilagem para dar aparência de legalidade aos registros de propriedade[21]. Além do exame sistemático de títulos específicos que aponta para isso de forma irrefutável, uma outra evidência estrutural é o fato de que, desde 1946, há um limite de 10.000 hectares para transferência de terras públicas para um único particular, o que torna inexplicável do ponto de vista legal a existência de latifúndios de dezenas e até centenas de milhares de hectares no MATOPIBA e na Amazônia Legal [22].
A massiva incorporação ilegal de terras públicas assume algumas formas jurídicas comuns, como por exemplo a falsificação na origem do título ou no tamanho da área do imóvel[23]. De forma grosseira, é comum que mesmo documentos que não valem como comprovação de propriedade (como certidão ou título de posse ou mesmo certidão de abertura de processo demandando alienação da área) sejam utilizados como título original para registro da venda do imóvel[24]. Há, além disso, algumas inovações recentes. Dentre estas, destaca-se o uso do Cadastro Ambiental Rural (CAR), instrumento de gestão ambiental previsto no Novo Código Florestal (2012), como se fosse comprovação de posse, apesar de isso estar expressamente vedado na lei[25].
No CAR, o suposto proprietário ou possuidor declara a extensão da área, a localização da reserva legal obrigatória etc. para fins de regularização ambiental do imóvel. Porém, em razão de seu caráter autodeclaratório e da escassez de análise e validação das declarações por parte do Estado, o cadastro tem sido um facilitador da grilagem, em especial de uma nova modalidade, muitas vezes chamada de “grilagem verde”[26]. Trata-se da declaração por parte de fazendeiros e empresários ou empreendimentos rurais de que terras públicas e territórios tradicionais são de sua propriedade, buscando consolidar fraudes cartoriais.
Em especial no Cerrado do Matopiba, os processos de “grilagem verde” via CAR têm permitido a expansão dos processos de apropriação ilegal de terras e o desmatamento. Tem sido prática crescente que, após apropriar-se das áreas de uso comum de comunidades tradicionais ao longo das últimas décadas de expansão da fronteira agrícola (por exemplo, os “gerais” do Oeste da Bahia), os mesmos empreendimentos rurais declarem suas áreas de reserva legal sobre as áreas remanescentes das comunidades (nos fundos de vale, no caso do mesmo exemplo) – áreas que estão preservadas justamente em razão da ocupação e manejo tradicional. Esse processo é agravado pelo fato de que o Código Florestal permitiu que áreas não contíguas às “propriedades” sendo cadastradas possam ser registradas como sua reserva legal[27]. Assim, supostamente cumprindo a obrigação de preservar sua reserva legal em outra parte, esses empreendimentos desmatam as porções que anteriormente mantinham como reserva legal na área grilada há mais tempo.
São processos que adotam, assim, procedimentos dos mais grosseiros aos mais sofisticados. Além disso, não são realizados de forma arbitrária e isolada por agentes que ignoram a dimensão do business do agro. Ao contrário, para operar grilagens de grandes dimensões nas diversas modalidades, há o envolvimento contínuo de uma cadeia de relações e costumam conjugar esses artífices:
desde grupos de pistolagem a oficiais de cartório, políticos locais, agentes policiais, advogados, magistrados, promotores, agentes de órgãos fundiários e ambientais, parlamentares, gestores públicos, etc. No topo desta cadeia, encontram-se as empresas transnacionais do agronegócio (traders), os bancos e os fundos de investimento internacionais, que adquirem, comercializam e recebem como garantia fiduciária as terras griladas.[28]
É sobretudo na ponta da cadeia mais dominada por sujeitos locais e regionais que o desmatamento é adotado sistematicamente como instrumento de grilagem, contribuindo para que, uma vez apropriada ilegalmente a terra pública, seja construída a aparência de legalidade do registro de propriedade e o título entre nos circuitos do mercado de terras.
Desmatamento como instrumento de grilagem
A grilagem de terras consiste, grosso modo, em duas fases, que se alimentam mutuamente: a apropriação da terra “no chão” (a invasão e o controle ilegais de terras públicas) e a atribuição de aparência de legalidade “no papel” (a parte burocrática). Por um lado, a derrubada da floresta ou vegetação nativa na terra apropriada é tida, em primeiro lugar, como o principal instrumento de consolidação da invasão e, em segundo, como um facilitador para o posterior processo de “esquentar” a terra nos cartórios, uma vez que o próprio crime ambiental é também passível de ser entendido como prova de ocupação da terra. Assim, quanto maior a perspectiva de facilidade do processo de grilagem, maior a possibilidade de o grileiro investir muitos recursos na primeira fase, desmatando vastas áreas e, eventualmente, expropriar ocupantes anteriores. A máxima “Dono é quem desmata” vaticinada por um grileiro no Oeste do Pará anuncia a crua realidade de que quem desmata, sempre, é, de fato, reconhecido como dono na lógica regional e, muitas vezes, acaba consolidando a fraude com o recebimento do título fundiário da terra saqueada[29]:
Ainda que o Estado possa emitir multas milionárias (muito remotamente pagas) e, mais raramente, determinar prisões, nunca se discute a retomada das terras públicas ilegalmente apropriadas. Aquele que desmatou é reconhecido como o dono da terra — inclusive, é comumente beneficiado por políticas públicas criadas recentemente, com amplas brechas para a legitimação da grilagem [30].
Desde a Lei de Terras de 1850, cujas normas ainda têm repercussão no regime fundiário vigente, tem ocorrido uma sucessão de anistias a crimes ambientais e legalização de atos de apropriação ilegal de terras públicas. Mesmo desde a Constituição de 1988 – que contém importantes marcos no sentido de reconhecimento da função social da propriedade, da prioridade da Reforma Agrária e dos direitos territoriais de povos indígenas e comunidades quilombolas –, um processo paulatino de flexibilizações legislativas e de contínuas ameaças a direitos consagrados tem sido implementado e orquestrado por um parlamento dominado por lobbies de proprietários rurais[31]. A certeza dos grileiros-desmatadores a respeito da impunidade, bem como da futura anistia e legalização, acarreta a banalização do roubo de terras públicas e é combustível para a intensificação do desmatamento, que está intrinsecamente associado à grilagem.
Quiçá a evidência mais gritante dessa associação nos é dada pela análise de imagens de satélite de desmatamento sobre áreas que são vizinhas, mas estão sob diferentes categorias fundiárias. Nessas é possível constatar que o desmatamento se concentra em terras públicas não destinadas, enquanto em terras públicas destinadas – como unidades de conservação e terras indígenas – o mesmo é contido. Isso acontece inclusive nos muitos “parques de papel”, unidades de conservação que foram determinadas por ação administrativa federal ou estadual, mas sem consequência concreta de gestão “no chão” da floresta. Ou seja, sem que tenha ocorrido qualquer obstáculo local e prático ao desmatamento, como demarcação ou fiscalizações, o desmatamento cessou no interior das áreas destinadas. Basta que o decreto seja assinado para que o desmatamento caia e, sobretudo no caso da floresta amazônica, a exploração madeireira cresça.
Obviamente a queda do desmatamento em áreas protegidas recém-decretadas não atesta a boa consciência dos desmatadores, mas sim responde à alteração do status fundiário da terra, que foi convertida em porção não passível de ser grilada. A dinâmica evidencia a correlação entre a supressão da floresta e o saqueio de terras públicas: os grileiros sabem que uma terra pública já destinada não pode ser destacada do patrimônio público para ser transferida ao patrimônio privado. E como desmatar custa caro – em que pese o uso sistemático de trabalho escravo[32] –, não se justifica para o grileiro desmatar uma área da qual ele não poderá se apropriar. Por outro lado, basta que comece a se discutir a desafetação de uma unidade de conservação – como no caso da Floresta Nacional do Jamanxim –, que o desmatamento dispara dentro da área[33], causado por grileiros antecipando a oportunidade futura de apropriação privada da terra. Vai, assim, se delineando a profunda conexão entre a questão ambiental e a questão fundiária no Brasil.
Diferenciando desmatamento de degradação ambiental/florestal
O termo “desmatamento” se refere à completa remoção da cobertura florestal ou de vegetação nativa, também chamado de “corte raso”. Só é captada em imagens de satélite quando acontece em área contínua maior do que 6,35 hectares. É condição para a exploração da terra por meio de monocultivos, o que implica a substituição da biodiversidade da área pelo plantio de uma ou poucas espécies, ou para a criação de gado em larga escala, que se dá por meio da supressão da floresta ou mesmo formações de pastagens naturais para o plantio de pastagens industriais.
Sabendo dos limites do monitoramento por satélite, os grileiros podem realizar a remoção do estrato inferior da floresta para acobertar um desmatamento em curso[34] ou mesmo realizar rodadas de desmatamento de partes diferentes de uma área a cada ano para evitar por mais tempo o alerta do satélite[35]. Nesses casos, pode ocorrer a “degradação florestal ou ambiental” de uma área antes que se consolide o desmatamento[36].
A degradação florestal também resulta de situações em que o corte raso não é o fim último, como nos casos de extração seletiva de madeira para realizar a exploração madeireira ilegal (normalmente em terras públicas destinadas) na Amazônia. Nesses casos, são abertos ramais, cortadas árvores de valor comercial e abertos pátios pequenos de operação (chamados de esplanadas). Ainda que a floresta seja bastante degradada nesses processos, a alteração na cobertura do solo não é possível de ser registrada pelo sistema de monitoramento do desmatamento[37]. Além disso, mesmo que a situação não se configure propriamente como desmatamento e não esteja associada necessariamente à grilagem, ela não é menos dramática: costuma fazer uso sistemático de trabalho escravo e é muitas vezes conduzida pelo crime organizado da madeira que aterroriza as comunidades que vivem dentro das unidades de conservação, assentamentos de reforma agrária e terras indígenas onde ocorre o saqueio madeireiro[38].
No processo de grilagem, o desmatamento cumpre algumas funções. Uma das mais evidentes é a valorização do preço da terra. No Oeste do Pará, em 2017, uma porção de terra desmatada podia chegar a ter um preço até 20 vezes maior do que uma área equivalente coberta de floresta. Compradores de terras na região declaravam preferir pagar mais caro por terras já desmatadas, ainda que alguns aceitassem comprar áreas com cobertura florestal. Em alguns casos, o desmatamento tornava a terra de fato vendável[39]. Além disso, o mero anúncio de obras públicas de infraestrutura intensifica esse tipo de processo: quando o asfaltamento da BR-163 foi anunciado, os índices de desmatamento na região dispararam, bem como o aquecimento do mercado de terras griladas[40], evidenciando a relação entre grilagem, desmatamento e especulação imobiliária.
Uma outra função do desmatamento no ciclo da grilagem é comprovar a ocupação de fato para fins de se aproveitar das permissivas políticas públicas que, na prática, anistiam a grilagem. O Programa Terra Legal, criado pela Lei 11.952/2009 e alterado pela Lei 13.465/2017, por exemplo, aceita como prova para datação de ocupação o registro de desmatamento em imagem de satélites. No Oeste do Pará, a situação chega ao esdrúxulo do sujeito desmatar ilegalmente e ligar para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) com o intuito de posteriormente utilizar o próprio auto de infração emitido pelo órgão público como comprovação de posse produtiva[41].
Inerente à relação entre terra desmatada e posse produtiva está uma premissa persistente no imaginário de constituição social do Estado brasileiro desde a economia de plantation e os tempos do bandeirantismo, posteriormente consolidada na modernização conservadora promovida pelo regime militar e que se reinventa em sua face mais perversa no anti-ambientalismo bolsonarista. A de que é desejável “desenvolver” a terra, incorporá-la aos circuitos de exploração e comercialização, equalizando a figura do abridor de fronteira à de um empreendedor pioneiro e desbravador que enfrenta a “natureza selvagem” para levar o progresso a regiões remotas. Nesse imaginário, a floresta e outros tipos de vegetação nativa são obstáculos; e, sobretudo, os povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais e de base camponesa são tidos como o atraso, resquícios de um passado que está fadado ao extermínio.
Assim, outra não menos importante “função” do ciclo do desmatamento e fogo no processo de apropriação ilegal de terras públicas é justamente o uso sistemático destes como arma contra povos e comunidades para ameaçá-los e expulsá-los de suas terras. Um processo que vai promovendo a fragmentação e restrição territorial, eventualmente buscando impossibilitar a reprodução dos modos de vida dessas comunidades. Não raramente essa invasão dos territórios tradicionais se inicia justamente pelas áreas de uso comum das comunidades, encurralando com o tempo as áreas de moradia e quintais produtivos. A seção “No rastro do fogo: conflitos territoriais” desse Dossiê contém exemplos variados e recentes dessa estratégia por parte dos desmatadores na Amazônia, Cerrado e Pantanal e das consequências dramáticas para as comunidades.
Reforma agrária: uma questão ecológica e de direitos
A partir do que foi analisado até aqui, cabe ressaltar que as dinâmicas de desmatamento nunca dizem respeito somente àquilo que as imagens de satélite conseguem evidenciar: a supressão de vegetação nativa. Ainda que isso possa indicar elementos importantes para pensar a questão ambiental no Brasil, se não for associada a uma análise da questão agrária e fundiária, perde-se grande parte do entendimento do que está em curso. Com o desmatamento e os incêndios florestais não apenas a cobertura vegetal é devastada, como também a biodiversidade e os modos de vida nos territórios das comunidades.
O centro da questão do ciclo do desmatamento, incêndios e grilagem reside justamente na erosão da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associados a esta. São os povos e comunidades que, muitas vezes com seu próprio corpo, defendem as florestas e campos. As áreas sob sua posse são as mais protegidas e ricas em biodiversidade na Amazônia, Cerrado e Pantanal. Garantir essa posse, por meio da demarcação e regularização de terras indígenas, territórios quilombolas, reservas extrativistas e outras modalidades fundiárias de regularização dos territórios tradicionalmente ocupados, bem como assentamentos de reforma agrária, é, portanto não somente uma questão de direitos, como também uma estratégia política essencial para conter o desmatamento – e a erosão da biodiversidade e conhecimentos associados. Ao abrir a porteira para os grileiros, o Brasil troca suas maiores riquezas pelo lucro de uma elite rural que produz essencialmente para suprir cadeias transnacionais de poucas commodities agroalimentares.
Importantes instrumentos legislativos, ao longo dos anos, reiteraram a prioridade da destinação das terras públicas para a reforma agrária ou a proteção ambiental. Além disso, a legitimação da posse de terras públicas depende do cumprimento de certos critérios. A legitimação de posses é específica para ocupações camponesas, inferiores a 100 hectares, que atendam a determinados quesitos com antigas garantias legais, ao contrário da grilagem em terras públicas. O Decreto-Lei 9.769, de 1946 (em postura ratificada pelo Estatuto da Terra, em 1964), já era taxativo ao vedar qualquer possibilidade de posse em terras da União com exceção daquelas condizentes com uma ocupação que, aqui, chamamos de camponesa:
Art. 71. O ocupante de imóvel da União sem assentimento desta poderá ser sumariamente despejado e perderá, sem direito a qualquer indenização, tudo quanto haja incorporado ao solo, ficando ainda sujeito ao disposto nos arts. 513, 515 e 517, do Código Civil. Parágrafo único. Excetuam-se dessa disposição os ocupantes de boa-fé, com cultura efetiva e moradia habitual, com direitos assegurados por este decreto-lei.
Para haver a posse legitimável, há que se ter a posse agrária, cumprindo, muito além do animus domini, o binômio cultura efetiva e morada habitual por seu possuidor. Além disso, é indispensável que “esse binômio encontre sustentáculo no pedestal absolutamente indispensável da exploração direta e pessoal, por si e seus familiares, tal como expressamente exigível no Estatuto da Terra”[42].
Do ponto de vista legal, a posse é, portanto, uma estratégia de reprodução social associada à agricultura familiar e camponesa; e é antagônica à apropriação ilegal de terras públicas (detenção de terras) consolidada por meio de mecanismos de grilagem e que está associada à acumulação primitiva de capital. Ocorre que, em que pese a explícita diferenciação jurídica, grupos privados grilando terras têm frequentemente se autodenominado posseiros, buscando adquirir legitimidade e legalidade[43]. E, apesar de não se qualificarem minimamente no critério de posseiros, adotam com frequência o procedimento de dividir vastas extensões griladas em porções menores registradas em nomes de laranjas ou diversos membros de uma mesma família, de modo a burlar os limites legais de regularização fundiária.
A tentativa do grileiro de se confundir com o posseiro é estratégia antiga e continuamente requentada. Nesse sentido, é lapidar – e constrangedora – a fala do atual secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Nabhan Garcia, anunciando a medida provisória que o governo Bolsonaro preparava em setembro de 2019: “Depois desse governo, não existirá mais o termo ocupante, posseiro e grileiro”[44].
Diversos programas ditos de “regularização fundiária” têm se constituído na prática em programas de legitimação da grilagem, ou seja, do roubo sistemático de terras públicas e da expropriação das comunidades tradicionais. O principal deles, o Programa Terra Legal, construído entre 2009 e 2017, norteia-se por um aparato jurídico que instituiu facilidades francas para que as terras públicas ilegalmente apropriadas fossem tituladas. De modo geral, o programa aporta-se na real necessidade de “regularização fundiária” e, sob essa denominação genérica, promove a flexibilização das regras de alienação de terras públicas da União em favor de particulares. Em recente trabalho, Torres, Cunha e Guerreiro sistematizam as flexibilizações trazidas pela legislação que aporta o Programa, de modo a evidenciar como elas trazem para o plano legal, de forma gradual, novos critérios de alienação de terras públicas federais, sempre de tal modo a se criarem condições privilegiadas para públicos até então juridicamente entendidos como invasores ou grileiros de terras[45].
O Banco Mundial e diversas organizações do ambientalismo de mercado veem na titulação de terras públicas a saída para a “insegurança jurídica” dos investimentos e a criação de um mercado de terras. Partem de uma lógica liberal segundo a qual tudo se resolve por meio da propriedade privada. Excluem, assim, quem vive do uso do uso comum da terra e para quem o reconhecimento é a via principal para realizar direitos[46].
Quando se compreende os mecanismos por meio dos quais o ciclo do desmatamento, incêndios criminosos e grilagem é parte de uma estratégia de apropriação privada da terra, não resta outro caminho que não defender a reforma agrária em seu sentido amplo, incluindo o reconhecimento dos direitos territoriais dos povos e comunidades, como uma questão ética e, ao mesmo tempo, uma necessidade ecológica.
Diana Aguiar é pesquisadora de Pós-Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e assessora da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado.
Mauricio Torres é professor do Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares (Ineaf) da Universidade Federal do Pará (UFPA).
Agradecemos a Eduardo Barcelos do Instituto Federal Baiano – Campus Valença por organizar as bases cartográficas utilizadas na feitura dos diversos infomapas que acompanham esse artigo.
Fonte: Articulação Agro é Fogo


